Documentáriop de um «comentário»

A pintura como repetida desinência não-verbal. A fisicalidade extrema-se através dela e gera uma ironia de aparência alegorica. Mas um dominio alegórico flutuante e às avessas. Acampamento “alegórico” junto às urbanidades da linguagem. A pintura como “aquilo” que se faz representável na “contra-representação”.
Excursões anfíbias às intermitências a/significantes. A a/significância é o espaço, o momento de preplexidade, manobra, afasia, excitabilidade, inércia, entre a significação e o insignificável.
A pintura anormaliza os conhecimentos que instituem e que instituimos, restituindo a vacilação do corpo a querer por-se em voz e em “barulheira” (gritos, rumores, musicas e outras manifestações do dominio “pânico”).
São os degraus (para os Parnasos Múltiplos) dos cepticismos que afinam a confiança (filha do sabor oculto – a fruta – do entusiasmo) e semeiam as eclosões celebrantes.
A arte arrasta-nos para uma experiência: concreta porque desintimidante.
As obras de arte mascaram o silêncio para se oporem ao inominável – seria equívoco negar que acima de tudo as obras de arte falam (“barulham” ou mesmo baralham) numa auto-recompensa do autor e numa eterna estranheza com que os espectadores se vão familiarizando.
Quem tenta fintar a questão do “não-ser” não compreende a sua utilidade e alegria “destrutiva” que inviabiliza todas as séries legitimizadores (ver Górgias, Nagarjuna, os do Zen) – a inevitabilidade lógica do “não-ser” desligitima, devolve a “autenticidade” e aproxima-nos de todas as distâncias – há nisso alguma “densidade patafísica”.
A alegria e a tragédia são o sumo da arte. Essa pulsão que existia como um rio negro e subterrâneo nos gregos saíu há luz e foi considerávelmente constituída como um canone em carne de Holderlin aos nossos dias. Há na alegria e na tragédia uma alergia ao puramente simbólico – o simbólico orienta-se segundo uma eficácia utilitária, a arte, pelo contrário, inviabiliza as útilidades para além da “saúde”.
A Natureza é solipsista na sua generosidade. O narcisismo da artephysis não a consegue desviar das incontornáveis utilidades “biológicas”. Tudo é recuperável e reciclável.
Os nossos limites criaram-se enquanto “limites” – cada limite é apenas uma fase (ou frase) do crescimento, uma etapa virtuosa na ilimitada arte amatória.
As elites são claques demasiado próximas e restritas – não são tão cegas quanto as outras claques, e o seu número incomoda menos. Os artistas querem ser adorados, ou admirados como deuses? Confiam demasiado na coqueterie das elites dos que os adulam?
É a sobreabundância da artephysis que nos atira para condições cada vez mais oblíquas. Cada condição obliqua é geradora de ubiquidades fragmentárias, intermitências celeradas que conjuntam não-totalidades.
O que se pretende pintar é o caracter intoxicante da artephysis – as “coisas” constituem-se como soma (ou ebriedade) das maquinações da Forma (software biológico, através do qual as formas se extenuam e se biodegradam) e da Retórica.
Não procuramos um público ideal, mas um publico que des-idealize, e que através da desidealização aumente, no seu peito, o estado vertiginoso de encantamento.
As obras excepcionais não aplicam conhecimentos, não citam expressamente (embora gerem citações e alusões), mas fazem fluir o que nos conhecimentos é estrato metamórfico.
O efeito de uma obra é o afeto que lhe sobra – mas sem “patetismo” (sentimentalisses de consumo).
Uma teoria é sobretudo uma imprudência com que envergonhadamente me identifico em dados momentos.
Teorias são curiosidades produtivas que utilizam o artificio da generalização para consumar abusos de linguagem aliciantes. A teoria sem a garantia fascizante da “generalidade” é, por tradição, sofistica e opinativa.
A nossa excitabilidade teórica é algo tântrica, no sentido em que alia uma prática mágica (e sexual) e as técnicas meditativas (que seriam supostamente ascéticas) a um fulgor produtivo (e artístico). A boa sabedoria só pode ser arte. Se respondemos a algo é indirectamente porque suspeitamos da aura das “liberdades” que se julga que se tomam. Só nos conseguimos revelar a nós próprios na ebriedade dos disfarce – não no cabotinismo das sempre falsificadas sinceridades.
Somos autodidatas de algo imberbe – é a fidelidade flexivel a algo que continuadamente julgamos acreditar que nos torna algo inconsequêntes.
Há, é certo, um programa de evasão (“È fugindo que nos encontramos” segundo M.V.), mas não há um onde, interior ou exterior para consumar os escapanços.
Já nem a condição (confidente ou inconfidente) de exilado é possível – asilamo-nos cada vez mais nas nossas vulnerabilidades. A vulnerabilidade não é algo que seja dado: é um trabalho de investigação, durissimo, exigente e negligente ao mesmo tempo. Investigação? Num sentido demasiado nosso, sem ser jogo de linguagem, como em Wittgenstein, mas aperfeiçoamento das sensibilidades do corpo nas suas relações com as linguagens.
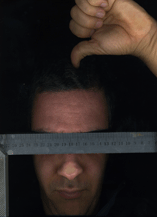

0 Comments:
Post a Comment
<< Home