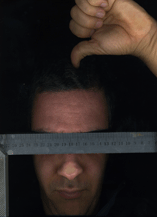INTERESSES DO PINTOR PELAS ALEGRES COMÉDIAS DO LINGUÍSTICO

Os interesses do pintor pelo linguístico (e as demais teorias sobre qualquer linguagem corporal) devem-se ao seu caracter intóxicante – a acutilância teórica, ou a sua nebulosidade, têm efeitos performativos, criam um clima sensorial que transborda bem para lá dos pic-nics do pitoresco. Há nas teorias algo de auspicioso, para além das atribuladas elegâncias e de outros quiçá confusos empreendimentos. O pintor aceita a lógica como imperativo de uma acção que lhe convenha. Rejeita, no entanto, a logicidade absoluta, pois perfere a esta as articulações que surgem nas encruzilhadas da imanência.
Não lhe sendo nenhum poder alheio, pois naquilo que somos menos há sempre vultos contaminantes, o pintor sente-se açaimado pelo que no exercício teórico o faz contemporâneo, quer de si mesmo, quer dos outros. É certo que os imperativos da contemporaneadade não são só eróticos, mas é a possibilidade de uma sensorialidade absoluta que faz com que o caracter lateral e meditativo das teorias eleve o corpo aos cumes de si mesmo, muito para além das próteses prometidas ou de narcóticas hiperrealidades.
A pintura é assim uma espécie de vígilia, em que a cor, mais do que as formas, se expande muito para lá de qualquer fugaz intenção – a cor é o epicentro de algo que se faz passar por um hábito. O hipotético caracter oficianal da pintura é o que nela é manuseável e faz canalizar ou transabordar a cor de uma forma mais vertiginosa.
A arte já deixou de nos orientar e até mesmo de desorientar – acostumamo-nos à falta de tábus e à impotência das falsas transgressões. A arte não é o que é, não é o que vemos e muito menos o que pensamos, se bem que passe por ser ou parecer qualquer coisa, o façamos através da visão e a reconsideremos com as muletas do pensamento. A arte é muito mais «o alterne do pensamento».

Nela assimilamos o sentido, e a desejável consiciência, mas também as erupções borbulhosas do não-sentido, sendo este entendido menos como uma referência ao nebuloso «inconsciente» e toda a sardinhada pulsional, e mais como uma recusa (céptica, puramente negadora, ou de algo por codificar ou incodificável) de depositar num sentido todas as esperanças.
Acreditamos na arte como numa devastadora e «libertadora» nota de rodapé na natureza – é certo que na arte os fluxos da natureza surgem cristalizados, mas a arte faz-nos ver mais e leva-nos a provar a ambrosia subjacente nos fluxos naturais, dirigindo-nos para o que na natureza é mais rico e excentrico.
Na pintura não há culpa, mas para muitos que estão estam fora dela a pintura pode ser o «pecaminosao», o «impuro», ou o que não cabe dentro das patilhas da moral, venham as condenações de uma moral conservadora ou de teorias complexamente revolucionárias. Há no fundo da pintura algo de híbrido e arcaico, e o que é inassimilável é a sua monstruosidade e fisicalidade, que por serem o mais tópicas possiveis são-no utópicas porque empáticamente e intensamente desejáveis.
É certo que a pintura é recuperável enquanto mercadoria tradicionalmente burguesa. Mas o que é que já não é recuperável como mercadoria?
A pintura, na maior parte das vezes, aliena bem menos que as mais desalienantes das teorias. Também não traduz nenhuma realidade. Pode mimá-la ou parodiá-la. Em vez de traduzir introduz-nos numa espécie de caça, a que podemos decorativamente chamar investigação, ou mania – não podemos através dela fazer-nos auratos mesmo da nossa experiência, que sendo de facto experiência de uma intensidade, só passa naquilo que sobrou da experiência, nos sinais de uma vitalidade exacerbada (mesmo nos seus fracassos) que torna os sentidos mais «vastos e flutuantes» - liberta os «vrittis» de que falam os Yoga Sutra, em vez de suprimi-los, como aparentemente o traduzem os «tradutores» e comentadores. Invocarei mais uma vez Lapa: «Apatia, transe, euforia, revolta, ângustia, serenidade, etc., tudo termos emocionais, relativos ao corpo afectado que não suporta enquanto tal quaisqquer valores».
Não nos interessam os sentidos ocultos ou a palermice da «pureza moral» do artista. A arte significa menos o que pretende significar e mais aquilo que nos pode dar como contaminação, influência, adversidade, simpatia ou até mesmo nos arraiais «obscenos» da decoração (há em toda a decoração algo de ritual e de subrepticiamente obsceno). Permitimo-nos contar histórias, como algo impaciente que desvia as atenções do que julgamos que queremos dizer, isto é, como uma urgência dissimulante.
A intrusão do linguístico no pictórico tem no entanto a possibilidade de através de uma linguagem que nos parece desviar das imagens fazer-nos de um modo distraído aproximar delas, sobretudo através do humor, da encenação da linguagem no que nela é (intimamente? exibicionisticamente?) comédia metalinguística (e a metalinguistica é no fundo uma comédia de atarantadas subtilezas) – no que é «shakespereanismo» - apetite por uma predação dramática que usa os «conceitos» como uns ingrediente que engorda e formiga. É a voracidade da linguagem que fabrica as personagens, que desperta os ocultos monstros através de máscaras velidas.
Que se fale do que se pinta, mesmo quando nos calamos, mesmo quando silenciosamente contemplamos em babélico mauna (jejum de silêncio). E o que a pintura faz passar tanto pode ser suposta «presença», mascarante «representação» ou lúdica-lubrica-&-refutante «contra-representação». Falo de algo mais importante que uma epifania ou uma excessiva evidência passiva, falo de uma actividade «sensual», de uma emancipação como que embriagada, do absoluto como um fluxo sexual perpétuo.
Não lhe sendo nenhum poder alheio, pois naquilo que somos menos há sempre vultos contaminantes, o pintor sente-se açaimado pelo que no exercício teórico o faz contemporâneo, quer de si mesmo, quer dos outros. É certo que os imperativos da contemporaneadade não são só eróticos, mas é a possibilidade de uma sensorialidade absoluta que faz com que o caracter lateral e meditativo das teorias eleve o corpo aos cumes de si mesmo, muito para além das próteses prometidas ou de narcóticas hiperrealidades.
A pintura é assim uma espécie de vígilia, em que a cor, mais do que as formas, se expande muito para lá de qualquer fugaz intenção – a cor é o epicentro de algo que se faz passar por um hábito. O hipotético caracter oficianal da pintura é o que nela é manuseável e faz canalizar ou transabordar a cor de uma forma mais vertiginosa.
A arte já deixou de nos orientar e até mesmo de desorientar – acostumamo-nos à falta de tábus e à impotência das falsas transgressões. A arte não é o que é, não é o que vemos e muito menos o que pensamos, se bem que passe por ser ou parecer qualquer coisa, o façamos através da visão e a reconsideremos com as muletas do pensamento. A arte é muito mais «o alterne do pensamento».

Nela assimilamos o sentido, e a desejável consiciência, mas também as erupções borbulhosas do não-sentido, sendo este entendido menos como uma referência ao nebuloso «inconsciente» e toda a sardinhada pulsional, e mais como uma recusa (céptica, puramente negadora, ou de algo por codificar ou incodificável) de depositar num sentido todas as esperanças.
Acreditamos na arte como numa devastadora e «libertadora» nota de rodapé na natureza – é certo que na arte os fluxos da natureza surgem cristalizados, mas a arte faz-nos ver mais e leva-nos a provar a ambrosia subjacente nos fluxos naturais, dirigindo-nos para o que na natureza é mais rico e excentrico.
Na pintura não há culpa, mas para muitos que estão estam fora dela a pintura pode ser o «pecaminosao», o «impuro», ou o que não cabe dentro das patilhas da moral, venham as condenações de uma moral conservadora ou de teorias complexamente revolucionárias. Há no fundo da pintura algo de híbrido e arcaico, e o que é inassimilável é a sua monstruosidade e fisicalidade, que por serem o mais tópicas possiveis são-no utópicas porque empáticamente e intensamente desejáveis.
É certo que a pintura é recuperável enquanto mercadoria tradicionalmente burguesa. Mas o que é que já não é recuperável como mercadoria?
A pintura, na maior parte das vezes, aliena bem menos que as mais desalienantes das teorias. Também não traduz nenhuma realidade. Pode mimá-la ou parodiá-la. Em vez de traduzir introduz-nos numa espécie de caça, a que podemos decorativamente chamar investigação, ou mania – não podemos através dela fazer-nos auratos mesmo da nossa experiência, que sendo de facto experiência de uma intensidade, só passa naquilo que sobrou da experiência, nos sinais de uma vitalidade exacerbada (mesmo nos seus fracassos) que torna os sentidos mais «vastos e flutuantes» - liberta os «vrittis» de que falam os Yoga Sutra, em vez de suprimi-los, como aparentemente o traduzem os «tradutores» e comentadores. Invocarei mais uma vez Lapa: «Apatia, transe, euforia, revolta, ângustia, serenidade, etc., tudo termos emocionais, relativos ao corpo afectado que não suporta enquanto tal quaisqquer valores».
Não nos interessam os sentidos ocultos ou a palermice da «pureza moral» do artista. A arte significa menos o que pretende significar e mais aquilo que nos pode dar como contaminação, influência, adversidade, simpatia ou até mesmo nos arraiais «obscenos» da decoração (há em toda a decoração algo de ritual e de subrepticiamente obsceno). Permitimo-nos contar histórias, como algo impaciente que desvia as atenções do que julgamos que queremos dizer, isto é, como uma urgência dissimulante.
A intrusão do linguístico no pictórico tem no entanto a possibilidade de através de uma linguagem que nos parece desviar das imagens fazer-nos de um modo distraído aproximar delas, sobretudo através do humor, da encenação da linguagem no que nela é (intimamente? exibicionisticamente?) comédia metalinguística (e a metalinguistica é no fundo uma comédia de atarantadas subtilezas) – no que é «shakespereanismo» - apetite por uma predação dramática que usa os «conceitos» como uns ingrediente que engorda e formiga. É a voracidade da linguagem que fabrica as personagens, que desperta os ocultos monstros através de máscaras velidas.
Que se fale do que se pinta, mesmo quando nos calamos, mesmo quando silenciosamente contemplamos em babélico mauna (jejum de silêncio). E o que a pintura faz passar tanto pode ser suposta «presença», mascarante «representação» ou lúdica-lubrica-&-refutante «contra-representação». Falo de algo mais importante que uma epifania ou uma excessiva evidência passiva, falo de uma actividade «sensual», de uma emancipação como que embriagada, do absoluto como um fluxo sexual perpétuo.