o abominável inominável

Escrevi antes (no tratado da contrafacção do pensamento) : a ilustração mais fatal da mentira é o silêncio. E mais adiante: cala-te!... como todos os culpados.
Temo que a minha noção de dissimulação/dissimulacro seja entendida como a apologia da mentira num sentido vulgar, quando esta é uma crítica da simulação/simulacro e de toda uma escola «essencialista» que acena abusiavamente com a bandeira da verdade. Como bom nominalista desconfio do uso filosófico do termo «verdade», preferindo a cautelosa noção de plausível. Por outro lado, e na boa e cómica tradição crítica de Luciano (e do velho paradoxo do cretense), o assumir da ficção enquanto ficção deixa-nos não só mais lúcidos e honestos. As pródigas relações entre a ficção e o que vai acontecendo é que têm que se lhe diga - coincidência ou fatalidade.
Mas o propósito aqui é um combate á apologia do inominável, indizível e outros vocábulos afins. Admira-me o prestigio de que estes termos gozam para descrever uma espécie de servidão ao terror, seja do supostamente sagrado, seja das forças tiranicas da natureza, seja da dilaceração social ou técnica. Mesmo as teorias apofáticas do pseudo-areopagita e do Scotus Eurigena não são uma entrega às mãos do indízivel - questionam e dão alternativas práticas à dificuldade de lidar com a vontade de ser mais superlativo que o superlativo. Já a teorização kantiana do sublime nos faz temer o pior. Tal como na experiência mística não há termos adequados - e a experiência mística, tal como o sublime, é concreta. São experiências muito raras... mas fazer uma industria do inominável e do indizível é uma estranha tentação...
A arte tem sido um laboratório desta tentação. A indeterminação ou mesmo a ausência de assunto reflecte-se em obras de arte que são voluntáriamente essencialistas - refiro-me à comum tradição da arte dita abstracta, assim como à arte minimalista e conceptual. Quando estas se reivindicam de um filão teoricamente puritano acontece o pior. Quando nos prometem o indizível como mercadoria há algo de fatal.
Quando o nosso silêncio se torna uma imagem de marca é porque nos entregamos a uma censura voluntária. Há várias hipóteses: a) não falamos porque nada temos para dizer; b) não falamos porque temos medo de dizer; c) não falamos para nos comprometermos com a linguagem e as solicitações quotidianas. O silêncio sistemático é uma evasão ética, como o fazem os monges e os ascetas supostamente contemplativos. O silêncio sistemático é o silenciamento progressivo do pensamento.
Não estou aqui a críticar o silêncio temporário. Antes pelo contrário - um jejum de palavras torna-as mais incisivas e acutilantes e afina a visão das coisas, tornando as presenças mais presentes, às quais se procuram adequar palavras e expressões mais ricas... mas a linguagem percorre metamorficamente a natureza (a artephysis) - é certo que a mascara com encenações de consciência, mas desde que a consciência, graças a uma sobreabundância, verbalizou, não nos podemos desligar desse filão verbal que por mais pequeno que seja num universo muito pouco consciente e vazio, se tornou a imanência mais indispensável (não há linguagem nem pensamento sem as singularidades de quem diz e pensa).
Alain de Libera diz que a censura gerou muitas das ideias e pensamentos medievais, porque esta tornou determinados temas, heréticos, mais pertinentes, contornando-os ou indo directamente ao assunto. Aqui ainda se trata de combater o silênciamento.
Mas é o nazismo que extrema o silênciamento, que leva o indizível aos seus limites. A ultima frase do Tratactus de Wittegenstein anuncia esse silenciamento. Heidegger essencializa esse silêncio e lança uma anatema sobre qualquer idioma que não seja o seu. O indizivel é a presença do exterminio. Beckett é o autor tagarelante que melhor traduz a época aurea do inominável.
Autores respeitaveis como Agenbem conseguem escrever coisas como esta: «o homem é esse vivente que se suprime e, ao mesmo tempo, se conserva como indizível - na linguagem.» Agenbem recorre constantemente aos paradoxos hegelianos. Mas na linguagem não nos suprimimos nem nos conservamos - metamorfoseamos, transmitimos e, por vezes, progredimos. Além disso nada disto acontece como indizível, mas acontece precisamente contra o prestigio do indizível que é a marca da morte. A comercialização do indizivel é a programação mortífera, é o assumir de que o traço da existência é a sua mortalidade - o ser para a morte, no calão heideggeriano. Ainda parafaseando (ao contrário) Agenbem , o homem é aquele que resiste à supressão final anunciada no indizível. E resistir ao indizível é cair no campo multiplo (e sujo) das representações. E é isso que é problemático e irritante sobretudo quando há uma enorme tradição que nega a «representação», não compreendendo que mesmo as imagens «abstractas» ou «simbolicas» não negam necessáriamente a representação.
Nós estamos assim no lado, mais materialista e judeu, de uma condição de resistência à morte. Penso em Canneti. Penso nesse emaranhado de textos sumérios e acádicos que nos deram o Gilgamesh. Penso na Odisseia, cobarde e astuta, contra a Íliada, heroica e tanatófila. Penso na côr, no sensualismo, na doçura, na terrivel dificuldade que é gerir a simpatia e a ternura. Penso que podemos ser asseados e representar coisas sem ter horror ao sujo. Penso que não temos que fazer bluff e propaganda com o indízivel para termos experiências ditas místicas ou sentirmos a presença das coisas e da natureza como uma experiência inalienável. Penso que que a linguagem, por mais sobrecarregada de clichês e saturada de redundâncias é o que nos faz transmissiveis, uns nos outros, continuáveis (eróticamente), porque a linguagem é sobretudo o que vamos constituindo com ela, o que vamos inventando e enriquecendo - não é, como pretendia Heidegger e os estruturalistas, um pacote que nos vai falando, como se lhe fossemos submissos porque possessos.
Há um trabalho/òcio de desessencialização que ainda está por fazer. Pode ser extremamente difícil. Também pode ser divertido.
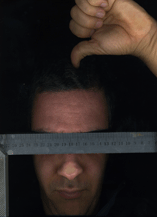

0 Comments:
Post a Comment
<< Home