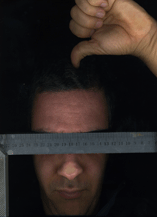o criticismo interesseiro e de poucos amigos

Qualquer académico (e não só!) sabe que, diga o que se disser, mais cedo ou mais tarde alguém lhe cai em cima com ganas refutativas, mesmo que se trate de um acto gratuito ou de admiração por parte do conscencioso refutante. O estado de guerra acentua-se no dominio especializado das “interpretações” – hermeneuticas, exageses, e criticismos escarafuncham o que há para escarafunchar – descobrem os pontos negros e espremem-nos até que saia toda a porcaria e “aquilo” fique em ferida. Esta lógica quase assassina não nasce apenas das lutas de poder nas instituições especializadas, mas é práticamente uma necessidade da escrita (ou qualquer coisa que se registe) que só pode aspirar à sobrevivência graças a uma singularização, ou se quiserem outro termo, diferença, do produto. O mesmo se pode dizer de qualquer obra de arte seja em que dominio for. Trata-se de uma necessidade formal, e que ainda por cima, se consolidou durante o paradigma modernista – é a originalidade, ó meus grandes malandros!
Uma boa maneira de descrever algumas das coisas que fazemos às coisas seria dizer que, em todo o mundo, grupos diferentes de pessoas se reúnem à volta de muitos bocados desse mundo, atribuindo-lhe intenções, disposições e até linguagens.
É uma bela defenição, esta de Miguel Tamen – e como quase todos os textos de Tamen, prudente, e no fundo maliciosa. O seu refinadissimo estilo critico, é realmente crítico. É nisso que o admiro, e é através dessa admiração que participo na comunidade dos que têm similares interesses e que num certo “meio” opinam a torto e a direito. Ao contrário de Tamen sou um não-especialista, seja nestas venenosas matérias, seja mesmo nas matérias em que me pareço ter especializado. Tamen, neste texto fala de “um certo modo” sobre “um certo modo”, isto é, no fundo de reservas que distingue um interprete prudente de um interprete fanático. O interprete prudente está defendido à partida, dando a entender que as suas interpretações se distinguém (pelo “certo modo”) e que são especificas de determinadas circunstâncias, ou, se preferirem, “objectos”. Haverá uma outra hipótese, a do interprete imprudente, que se distingue quer do interprete que se açaima a interpretações inquestionáveis, quer do conscencioso dandy que ganha a sua vidita a propor interpretações e a gerir e publicitar reservas. Este tipo imprudente manda bocas desconcertantes. Há uma tradição nesse sentido – tradição de provocadores em muitos casos com tiros ao lado e afirmações líricas e incipientes. É nesse tradição de arruaceiros em que me integro. É certo que o estilo arruaceiro dissimula muito do afecto que se possa nutrir pelos seus admiráveis assuntos. Mas é um estilo excitante que mistura a banha-da-cobra oracular do tipo de interprete fanático, com a comicheira (já assinalada em Platão a propósito da excitação provocada pelos sólidos regulares) que o jargão do criticismo provoca.
Tamen fala de três teses (“muito gerais”) que deve ter discutido algures e a que não tenho, por ora, acesso aos diligentes escrutinios e considerações de reserva:
1) “Só no contexto de uma sociedade de amigos uma coisa se torna interpretável e descritivel de um modo intencional”. Tamen cita a propósito a formulação ceptica de Bouwsma de a linguagem ser “uma comunidade de acordo na qual nos compreendemos e equivocamos”, e Quine , “adquirindo-a temos de depender inteiramente de pistas disponíveis intersubjectivamente relativamente ao que dizer e quando”.
2) “Não há objectos interpretáveis ou objectos intencionais, mas apenas o que conta como um objecto interpretável ou, melhor, grupos de pessoas para as quais certos objectos contam como interpretáveis e que, em conformidade, lidam com certos objectos de modos reconhecíveis.”
3) “Estes grupos são sociedades de amigos”, mesmo que se tratem de criaturas que nutrem afectos por “objectos notoriamente incapazes de reciprocação, magnificamente ilustrada por muitos tipos de comunidades de amigos contemporâneas (desde os críticos de arte até aos defensores dos direitos dos animais).”

O primeiro ponto questionaria a amizade (contextualizante) em que se geram tais sociedades. Mais do que a amizade julgo que são “interesses”, nobres ou mesquinhos, que movem as pessoas num determinado campo interpretativo ou produtivo – a amizade, e, em muito maior grau, a inimizade, é consequência, do interesseirismo que pressupõe o grupo. Neste caso prefiro a imagem aguerrida e conspurcada do “interesseiro”, ou do gajo do lobby, à desejável e idealizável amizade (no velho e nobre sentido “academico” – ò bom Sannazaro!), mesmo se esta amizade se consolide na pandega e nos copos. A defenição de Bouwsma, mais realista, sublinha a normalidade do equivoco. Eu vou mais longe e destacaria as raridade da compreensão. Assim sendo há grupos de interesses que procuram extrair sentidos, normalmente equívocos e raramente compreensiveis. É a redundância do jargão que reforça o grupo de interesseiros. A normalidade do equívoco é soberbamente compensada pelas excepções, se bem que muitas dessas excepções se alicercem, estranhamente, em equívocos.
No segundo ponto, mais operacional, limita-se a constatar que os ditos objectos são gerados pela comunidade interesseira como uma coisa “que conta como”. Fábula ou contabilidade? Coisas a ter em conta? Tratam-se de actos de contrabando de sentido segundo “modos reconhecíveis” pelos contrabandistas de sentido. Os contrabandos fazem-se entre o sentido interno ou esotérico, cheio de indirectas para os que estão mais dentro do assunto, e o sentido externo ou exotérico, mais preocupado com a eficácia e a propaganda (procurando, interesseiramente, extraír dividendos de alguém!).
O terceiro ponto de pouco adianta. Questionável é a não-reciprocação dos supostos objectos. Mas graças ao segundo ponto de Tamen ponto não podemos distinguir os tais objectos da comunidade, logo, a questão da não-reciprocação, que à primeira vista parecia brilhante e nos faria ver os interpretes como um grupo de punheteiros desperdiçando a sua amizade e energia em afectos inuteis por coisas quiçá nobres, é falsa. O que faz mover os interpretes não é o prazer fetichista que se possa extraír de um objecto inanimado ou verbal, mas o feed-back afectivo da comunidade, mesmo quando as respostas não acontecem. Daí que seja importante continuar a dizer e a comunicar.
Há um caso, mais difícil e singular, de determinadas experiências de determinados membros das comunidades de interpretes, que são incomunicáveis, não por lhes faltar linguagem, mas por serem fruto de uma experiência de tipo mística. Essa experiência pode ser consequência de um forte impulso interpretativo, e até pode estar subjacente ao interesse interpretativo (interpretamos para ter experiências fortes que são refráctarias à sua explicitação). Mas é desprezível fazer do inominável quer um pressuposto quer um programa interpretativo ou legitimizador (como diria Julio Rato: “dizemos não ao abominável inominável”!) de interpretações ou de obras. O paradoxo do pseudo-silênciamento já foi analizado por muitos (em particular por Derrida) e a equivocante “sentença” de Wittegenstein sobre o assunto gerou mais admiradores e fez correr mais rios de tinta que o resto da sua obra.

Tamen no fim do livro que aborda estes problemas (“Amigos de objectos interpretáveis”) avança com um resumo (dirigido a quem?) que nos convida cada vez mais a colocar aspas (ou fundas suspeitas) sobre as noções que legitimam as práticas interpretativas, assim como sobre as nossas genuinas e pouco gerais interpretações: “não parece haver coisas muito interessantes e gerais que possam ser ditas acerca da interpretação e, sobretudo, não se podem dizer muitas coisas acerca da interpretabilidade e de objectos interpretáveis, para não falar já das caracteristicas comuns a objectos interpretáveis, excepto talvez que essas coisas não existem, ou que pelo menos não há muita necessidade dessas entidades para caracterizar aquilo a que tenho chamado “interpretação”.”
No fundo a convicção de Tamen (apesar da hipotese algo budista da inexistência de tais coisas) não é diferente da nossa quando parodiamos Wittegenstein ao substituir a noção de que o sentido é um uso, pela do sentido como um ab-uso, como algo hipotético e forçado que nos singulariza em guerrilha contra tudo o que nos ameaça, e que apesar de tudo acrescenta algo, graças a algum reconhecimento comunitário e interesseiro, ao campo das coisas reconhecíveis e afectuosas. No fundo o que nos faz mover nos trilhos da “interpretação” é algo que nascendo do sentimento de perca e de vulnerabilidade (como suposta e jubilante “autenticidade”) nos arranca para uma produção-predação que é simultaneamente refutativa e criadora de hipotéticas alternativas – purgatório negatório e limbo supositório – um “se” e um “não”, um a “não-ser-que”: unlessness.