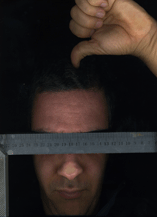a morte da filosofia ao lado da arte que se passeia

A filosofia aperfeiçoa-se na teatrealização da sua morte - a morte é «obviamente» a perfeição das perfeições, o grande polimento que torna os objectos perfeitos (como, por exemplo, a esfera) algo irredutível, monumental, etc. A filosofia nunca conseguiu ultrapassar (porque não pode) este seu fim que coincidiu com o seu início. Por isso as equações conceptuais de Hegel parodiam as de Platão e estas as de Parménides e Heraclito e por aí fora, até aos comentadores dos comentadores com as suas marginálias bem comportadinhas (embora algo marotas!).
Em Platão a arte (a poética) já era um assunto morto, um cadáver do qual nos devemos desembaraçar depressa - antitese da perfeição, algo imberbe, adolescente, ritualizado, mágico, sem «grande» finalidade. No entanto a «arte» enquanto arte ainda não tinha nascido. A morte filosófica da arte dá-se paradoxalmente antes do seu conceito emergir na plenitude. Por isso os teóricos mais filosofos vêem a arte como uma oportunidade de práticas de imanência invejáveis, e rápidamente a decretam como obsoleta, curiosidade cadavérica digna de atenção e de perversas autópsias. O filósofo coloca-se voluntáriamente fora da experiência produtiva da arte. Por isso é mais fácil decretar a sua morte, porque não encontra para ela uma finalidade ou uma saída. A arte é um beco. Ou apenas parece um beco? Ou não é nenhum sistema?
A solução parece ser simples - a arte passeia-se (como já falámos disso), ou se preferirem, pavoneia-se. É a expressão de um excesso (ou de uma excessiva contenção), algo primaveril, uma vontade de entrar pela floração-animalação adentro. Não é um fenómeno «cultural», embora não a possamos separar da cultura e das suas tradições. É algo descuidado e que nos ultrapassa - uma pulsão sem frígidos sublimes (os frigidos sublimes são o ornamento do espartilho filosofal). E esta pulsão é muito anterior à filosofia e ao homem. Embora seja nos humanos que ela se exprime de uma forma mais sofisticada e nos faça poder vislumbrar o absoluto sem portinholas conceptuais e sem o «absoluto» como nome.